
O Brasil precisa de uma nova versão do auxílio emergencial em 2021? Veja a opinião de três economistas
fevereiro 9, 2021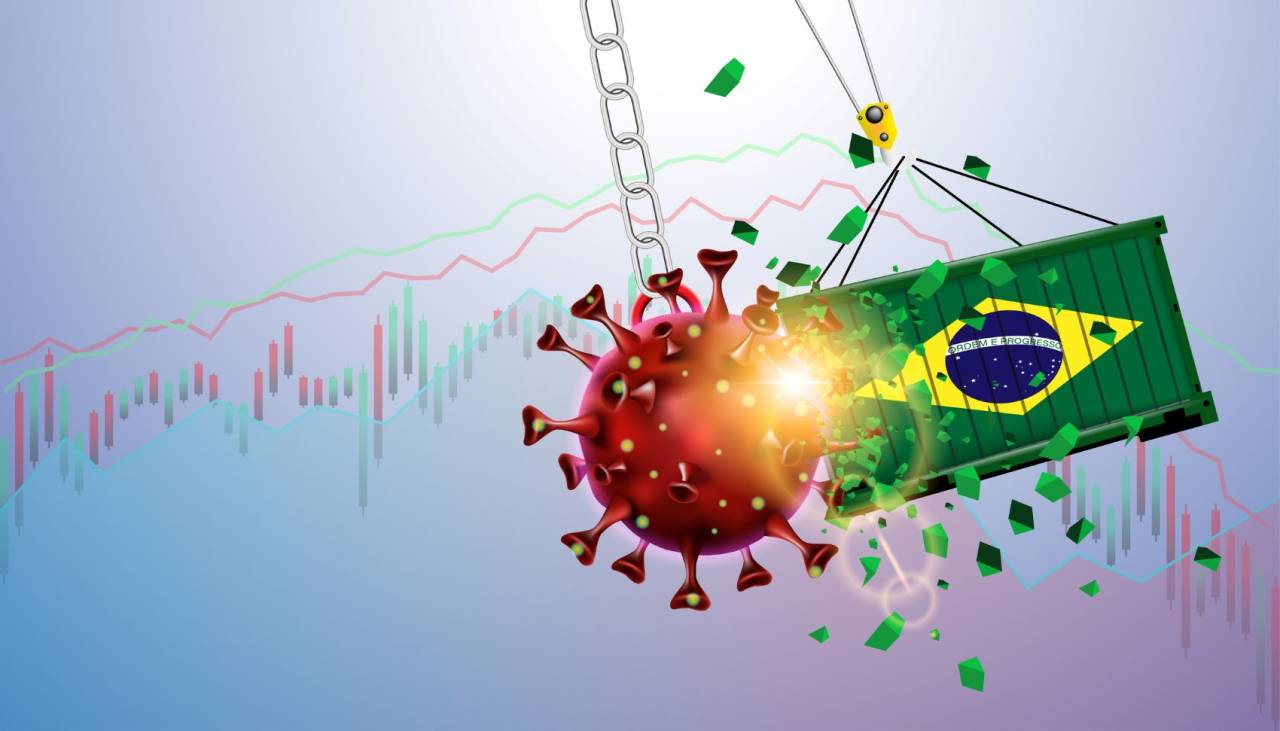
SÃO PAULO – O ano de 2021 não começou bem. O número de contaminados pela Covid-19 voltou a subir. A média móvel de mortes voltou a superar mil por dia. Essa realidade, somada à falta de assertividade do governo federal na compra das vacinas, criou um cenário de instabilidade. As restrições impostas em algumas das principais cidades, como São Paulo, Manaus e Belo Horizonte, afetam a economia.
A Tendências Consultoria projeta que o PIB terá crescimento de 0,3% no primeiro trimestre e próximo de zero no segundo. Ou seja, economia parada. Resultado: milhões de brasileiros desempregados e sem renda. Segundo dados da FGV Social, a proporção de brasileiros vivendo na extrema pobreza atingiu o recorde em janeiro: 12,8% vivem com menos de R$ 8,20 ao dia. Em 2019, eram 11%.
Nessa situação, não são poucos os que defendem a volta do auxílio emergencial. No ano passado, as nove parcelas, seis de R$ 600 e quatro de R$ 300, beneficiaram 120 milhões de pessoas. Só para se ter uma ideia da importância do programa, o número de brasileiros pobres atingiu a mínima de 4,5% em agosto graças à ajuda do governo.
O governo federal relutou durante algum tempo na reedição do benefício. Em diversas oportunidades, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se mostrou contra o retorno do auxílio. O receio é o desarranjo no total das contas públicas, que fecharam o ano passado com déficit de R$ 743 bilhões e dívida chegando a quase 90% do PIB. Recentemente, porém, ele tem se mostrado mais aberto a ideia, assim como outros setores do governo federal e do Congresso, desde que haja compensação na redução de despesas.
Uma das propostas que o governo estuda, segundo a Folha de S. Paulo, é uma versão mais enxuta e direcionada, chamada de Bônus de Inclusão Produtiva (BIP). O novo programa distribuiria três parcelas de R$ 200 para cerca de 30 milhões de trabalhadores informais, metade do número de beneficiários do auxílio no ano passado. Teriam acesso ao benefício trabalhadores informais que não estão inscritos no Bolsa Família e que precisariam participar de cursos de qualificação profissional.
O novo programa custaria R$ 6 bilhões por mês – muito menos que os cerca de R$ 50 bilhões mensais gastos com o programa em 2020. O governo quer condicionar o BIP ao corte de despesas em outras áreas do governo. Uma das ideias é incluir uma cláusula de calamidade pública na PEC do Pacto Federativo, que retira amarras do Orçamento e permite medidas de ajuste fiscal em momentos de crise.
O InfoMoney conversou com três economistas para ouvir se o país precisa mesmo de uma nova versão do auxílio emergencial – e como ele poderia ser criado de forma a causar o menor impacto possível nas contas públicas.
“A situação econômica é frágil, a recuperação depende da vacinação ampla e o mercado de trabalho reflete essas incertezas. Nesse contexto, faz todo sentido que se proponha um novo auxílio temporário”, diz Felipe Salto, diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão do Senado que tem entre seus objetivos mensurar os impactos das políticas públicas na situação fiscal do governo.
O fim do auxílio emergencial já produz efeitos na economia. Em janeiro, a caderneta de poupança fechou o mês com saída de R$ 18,15 bilhões – maior retirada desde 1995. Nem isso manteve as vendas em alta. Segundo a empresa de pesquisas GfK, o volume de vendas de bens duráveis caiu 5% no mês na comparação com janeiro de 2020. O número de emplacamentos de carros caiu 30% na comparação com dezembro, segundo a Fenabrave.
“O agravamento da epidemia e o fim do auxílio emergencial são bons motivos para repensarmos a evolução da atividade econômica ao longo de 2021”, escreveu o economista Alexandre Schwartsman, em artigo publicado no InfoMoney. Segundo Schwartsman, se o número de casos de Covid continuar alto, os governos precisarão retomar medidas de distanciamento social – e o auxílio emergencial seria fundamental nesse contexto. Para ele, há espaço para a criação de uma nova versão do programa, mais enxuta, para atingir quem realmente precisa. O programa do ano passado, segundo ele, alcançou mais pessoas do que o necessário.
O desafio é equacionar essa nova despesa no orçamento. “Hoje não há espaço para a retomada do auxílio”, diz Caio Megale, economista-chefe da XP Investimentos. Segundo ele, o país teria que aumentar o endividamento, uma decisão complicada. “Quanto maior a dívida, maiores os juros lá na frente, o que aumenta o custo de carregar a dívida.”
A saída mais simples é o governo federal utilizar o instrumento de crédito extraordinário. Essa brecha, permitida pela Constituição, retira os gastos com o benefício do cálculo do teto de gastos (regra que impede o crescimento das despesas acima da inflação).
Seria fácil se fosse simples. Na verdade, a dotação de créditos extraordinários não passa de uma manobra – legal, ressalte-se – para evitar o descumprimento da regra do teto. Os impactos reais da despesa, ou seja, no cálculo do resultado primário e na dívida pública, não vão sumir. É aqui que a situação se torna (bem) mais complexa.
Segundo a economista Alessandra Ribeiro, diretora de Macroeconomia da Tendências Consultoria, com ou sem nova rodada de auxílio emergencial, o governo estoura o teto de gastos em 2021 pelo menos R$ 3 bilhões. A discussão, então, está no tamanho do rombo. “A economia está parada e aumentam as pressões para a volta do auxílio, mas a situação fiscal é delicada. Na prática, o cobertor é curto”, diz.
A Tendências criou um cenário em que o governo não recria o auxílio emergencial, mas expande o Bolsa Família, de 14,1 milhões de famílias em 2019, que receberam um benefício médio de R$ 190, para 17,5 milhões de famílias, que passariam a receber em média R$ 300. O custo aos cofres públicos passaria de R$ 35 bilhões para R$ 67 bilhões. E o rombo do teto aumentaria em dez vezes em relação à projeção inicial, sem contar os impactos na dívida e déficit primário.
O que fazer para compensar o aumento de gastos?
Nos últimos anos, o aumento das despesas obrigatórias do governo era compensado pela redução do chamado gasto discricionário, que, ao contrário de salários e aposentadorias, pode ser cortado. Fazem parte dessa rubrica investimentos e gastos para tocar a máquina pública. Costuma ser a saída mais fácil. Mas, nos últimos anos, os governos abusaram tanto dessa medida que estamos perto do limite.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 prevê R$ 83,9 bilhões nesse tipo de gastos, sem contar emendas parlamentares. Isso corresponde a 1,3% do PIB e representa o menor número da série desde 2008. “A margem para contingenciamento é muito baixa e cortes adicionais aumentam o risco de ‘apagão’ do setor público”, diz Alessandra.
Felipe Salto diz que uma medida efetiva no controle da dívida é o corte das renúncias tributárias – as famosas “ajudinhas” do setor público para empresas privadas. Hoje, elas somam 4% do PIB, um montante considerável. “Seria uma medida muito positiva”, diz.
E as reformas?
Mexer nos gastos obrigatórios deveria ser prioridade e é o tema da chamada PEC Emergencial, que cria “gatilhos” que permitem cortes temporários de custos fixos, como salários de servidores. Esses gatilhos poderiam ser acionados sempre que as despesas crescessem demais.
Não se trata de um tema fácil. Se os subsídios setoriais sofrem pressão de lobistas do setor privado, os gastos obrigatórios, que envolvem em grande parte salários, aposentadorias e pensões, também são alvo de corporativismo. O governo tenta e o Congresso discute a aprovação da PEC Emergencial. Uma primeira versão, mais parruda, foi enviada. Atualmente o Congresso discute uma versão mais enxuta.
Segundo cálculos da Tendências, a aprovação da versão original reduziria o estouro do teto de R$ 67 bilhões para R$ 17 bilhões. Já a versão desidratada teria um impacto menor: estouro de R$ 34 bilhões em 2021.
Compensar o aumento de despesas sociais importantes para o momento com reformas para aumentar a eficiência dos gastos públicos é a saída preferida entre 10 de 10 analistas sérios. Dentro desse cenário, o aumento de curto prazo das despesas seria aceito, e talvez até aplaudido pelo mercado, hoje receoso com o desarranjo das contas públicas. “Se o governo criar um auxílio focado em quem realmente precisa e der sinais críveis de que vai encaminhar os projetos para o controle dos gastos públicos, o mercado reagirá bem”, diz Alessandra Ribeiro.
Foco deve ser o longo prazo, diz economista
O economista-chefe da XP diz que o governo pode não ter tempo para aprovar um novo auxílio pontual. Ele acredita que, no segundo semestre, a vacinação estará em curso e a economia já terá reagido. “Já estamos em fevereiro e a formatação e aprovação de um novo auxílio, acompanhada das medidas para controle de gastos públicos, pode levar muito tempo”, diz.
Por isso, mais importante seria o governo trabalhar para melhorar as políticas de distribuição de renda. “O tema mais relevante não é o auxílio durante a Covid, mas como vamos melhorar de forma estrutural a distribuição de renda no país pensando em 20 anos, e não dois meses”, diz Megale. “Para isso, é fundamental reforçar programas de transferência de renda e investimentos. E só é possível fazer isso se houver reformas estruturais que permitam corte de gastos. O país aprovou a reforma da Previdência, falta a Administrativa e a PEC Emergencial.”
Profissão Broker: série do InfoMoney mostra como entrar para uma das profissões mais estimulantes e bem remuneradas do mercado financeiro em 2021. Clique aqui para assistir


